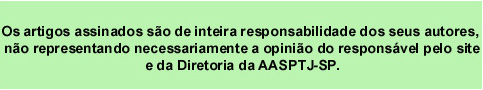Abrigamento: Saberes e sentidos
“A internação não significa apenas a mudança de espaço e de ambiente físico, mas, principalmente, uma alteração possível nas pautas de relação.”
(Marlene Guirado)
O presente artigo pretende refletir sobre as práticas de cuidado dedicadas à Infância e Juventude na contemporaneidade. Nos últimos anos, assistimos à comemoração dos vinte anos da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), ao desenvolvimento do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (2006) e à formulação de diretrizes para reordenamento dos abrigos e entidades de acolhimento (2009), sempre visando a melhoria da qualidade dos serviços dedicados à crianças e adolescentes. De que forma essa legislação e essas diretrizes estão sendo trabalhadas na prática de educadores e funcionários dos abrigos? Para pensarmos sobre esta questão, inicialmente temos que contextualizar nosso problema.
A medida de abrigamento
O Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que, nos casos em que os direitos das crianças ou adolescentes forem violados ou ameaçados, os órgãos responsáveis podem aplicar uma medida de proteção (artigo 101).
Os “órgãos responsáveis”, no caso os Conselhos Tutelares, a Vara da Infância e Juventude e o Ministério Público são, portanto, os mecanismos de avaliação da situação de violação e ameaça e também os atores responsáveis por intervir nessa situação. As medidas de proteção, por sua vez, são tomadas como ferramentas de atuação, visando a garantia dos direitos de crianças e adolescente. De acordo com cada situação, diferentes modos de intervenção podem ser colocados em prática.
A medida de abrigamento é uma das possibilidades de intervenção e por ser a forma mais drástica de modificação do quadro familiar, visto que produz uma ruptura nas relações familiares, é indicada somente quando as demais medidas não se mostraram eficazes e produtivas ou nas situações de violência “grave”, que necessitam de proteção urgente. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o abrigamento tem caráter excepcional e provisório, ou seja, deve ser aplicado de forma restrita e extraordinária e deve ser mantido por um curto período de tempo.
A aplicação da medida de abrigamento, portanto, é realizada como uma forma de proteção da criança ou do adolescente em situações consideradas de risco à integridade física ou psíquica. Esta intervenção pontual, entretanto, produz efeitos também limitados, visto que, na maior parte dos casos, os problemas que levaram a configuração de uma “situação de risco”, persistem na dinâmica familiar e comunitária, sendo necessária uma intervenção mais ampla e contínua.
Como forma de garantir um cuidado prolongado e permitir intervenções a médio e longo prazo, foram organizadas as entidades de acolhimento provisório, os abrigos. Detenhamo-nos por alguns momentos na história de formação dos abrigos.
Os abrigos
As entidades abrigo, da forma como as conhecemos atualmente e conforme as concepções do ECA, têm como principal objetivo a proteção, o rompimento do ciclo de violência e o resgate e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Ou seja, trata-se, não somente de uma atuação imediata de proteção e rompimento do ciclo de violência, mas também de uma intervenção no sentido de promover e resgatar direitos.
Desde o ano de 2005, com a reestruturação e ampliação dos Centros de Referência da Criança e do Adolescente, tem havido uma separação entre o atendimento pontual, denominado “porta de entrada”, e o atendimento de médio e longo prazo, no caso os abrigos. O trabalho dessas duas instituições costumam ser diferentes, tanto na clientela, quanto nas formas de atuação e objetivos institucionais.
Os abrigos geralmente trabalham muito mais próximos às famílias das crianças e adolescentes abrigados, avaliando as razões que motivaram o abrigamento e construindo estratégias de atuação para garantir o retorno dos residentes ao núcleo familiar. Este trabalho de aproximação e orientação exige tempo e reflexão.
Essa estratégia de atuação junto aos familiares, entretanto, é parte de uma concepção de abrigo pautada nas novas diretrizes de ordenamento das entidades. Neste sentido, houve a modificação de um olhar sobre a família e sobre as crianças e uma mudança nas relações estabelecidas entre instituição e clientela.
Inicialmente, as entidade de abrigamento foram criadas como um Serviço de Assistência ao Menor, visando atender “menores em situação irregular”. A clientela era de crianças órfãs ou em situação de rua e a tônica era correcional, uma forma de disciplinar e “educar” jovens marginalizados.
De acordo com o Código de Menores, decreto federal n. 17.943-A de 12 de outubro de 1927, em seu artigo 1º: “O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, será submetido pela autoridade competente às medidas de assistência e proteção contidas neste Código”.
O objetivo das entidades era, portanto, regrar a vida de crianças e jovens, ou seja, educar, disciplinar, regenerar e corrigir menores provenientes de famílias “desajustadas” ou órfãs.
As instituições destinadas ao “menor carente e abandonado” consistiam em patronatos agrícolas e escolas de aprendizagem de ofícios urbanos, onde os jovens eram preparados para a vida adulta e a inserção no mercado de trabalho. A ótica da assistência e da proteção pautava-se na perspectiva de controle e correção.
A promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 1990, instaura uma outra perspectiva, inaugura um outro olhar sobre essa clientela e sobre essas famílias. O ECA descreve “medidas de proteção” e fala sobre “garantia de direitos”, abrindo a possibilidade de olhar para crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e em peculiar condições de desenvolvimento.
Uma transformação de paradigma como esta, a radical mudança de um olhar e a ruptura com uma “ordem” estabelecida, não ocorre da noite para o dia. As modificações de papéis e lugares devem ser incorporadas nas práticas de atendimento à infância e juventude pelos diferentes atores que compõe essa rede de proteção. Depois de mais de 18 anos da promulgação do ECA, perguntamo-nos, como essa mudança de lugares, dos orfanatos como entidade de controle e correção para os abrigos como entidade de acolhimento e proteção, e de menores como objetos de investimento do Estado a crianças e adolescentes como sujeitos de direito, se configura na prática?
Sabemos que esta questão é bastante ampla, e nosso objetivo não é esgotá-la neste pequeno artigo. Pretendemos somente refletir sobre este ponto e partiremos da exposição de um caso concreto.
Uma parte da história de Maria
[1], 15 anos
Maria foi entrevistada pela primeira vez pela equipe técnica da Vara da Infância e Juventude, por ocasião de um pedido de Guarda. A tia materna da jovem, que já detinha a Guarda de Maria e seus dois irmãos, após a sentença do Juiz de Vara de Família e Sucessões, entrou com uma ação solicitando o Termo de Guarda e Responsabilidade de dois sobrinhos-netos, devido à morte da genitora destes.
Na primeira entrevista, Maria faz referência a diversas situações de violência de seu cotidiano. Conta que assistiu à morte de sua mãe, quando contava com 8 anos de idade, em decorrência de um atropelamento em frente à sua residência. Sem ter afinidade e mantendo contato somente esporádico com seu pai, os quatro irmãos acabaram permanecendo sob os cuidados de uma tia materna, Joana. Na residência de Joana, onde já moravam quatro adolescentes e uma criança, instalaram-se outras quatro crianças.
Quando Maria estava com 12 anos de idade, sua irmã de 18 anos foi assassinada com arma branca, deixando seus dois filhos também aos cuidados de Joana. Essas crianças foram a razão da abertura do processo de Guarda.
Na ocasião da entrevista, notamos que apesar dos relatos de violência, Maria se mostrava uma adolescente espontânea e comunicativa. Demonstrava interesse nos estudos e bom desempenho na escola. Em casa, entretanto, vivia em constante conflito com sua tia materna.
Os comportamentos de Maria, em fase de adolescência, eram lidos por Joana como agressões a ela e demonstrações de desamor e ingratidão. Joana reagia a esses “ataques”, rejeitando a adolescente, ignorando-a e competindo com ela pela atenção dos outros adolescentes da casa, como se fosse sua irmã mais velha. A falta de acolhimento da tia materna alimentava sentimentos de rejeição e de isolamento na jovem.
Meses depois desta primeira entrevista de avaliação, o conflito acirrou-se e Joana “expulsou” Maria de sua residência. A adolescente, sem poder contar com outros familiares, pediu auxilio a uma colega de escola, que acolheu-a em sua casa provisoriamente.
A experiência de viver em outra família foi bastante conturbada. Maria inicialmente se sentia incluída e acolhida, respondendo com afeto e obediência. As discordâncias do cotidiano, entretanto, reavivaram sentimentos de rejeição e provocaram reações de agressividade e confronto com os novos guardiões. Esses decidiram recuar e, algumas semanas depois, Maria foi acolhida em uma instituição abrigo.
As primeiras semanas transcorreram satisfatoriamente, Maria tentava fazer amizades e demonstrar seu afeto, sentia-se querida e acolhida. Os conflitos de valores, as regras da casa, as discordâncias de posicionamento eram esperados e de fato aconteceram. A instituição tentava orientar Maria, explicar as regras da casa e adaptá-la à nova realidade, Maria, por sua vez, resistia.
Um dia Maria brigou com outra jovem, agredindo-a fisicamente. A adolescente transgrediu uma regra da entidade, agrediu outra residente e, de acordo com as normas, deveria ser responsabilizada.
A entidade abrigo, neste momento de confronto, lidava, pela primeira vez, com os reais “problemas” de Maria. A jovem demonstrava na instituição suas questões emocionais, decorrentes de seu histórico de vida. A transferência estava instaurada e Maria atualizava suas formas de relacionamento passados. Neste precioso momento, abre-se o caminho para um novo tipo de relação, não mais pautado na rejeição e agressão, não mais caraterizado como disputa e rivalidade. Abre-se a possibilidade de apresentar para a jovem outra maneira de se relacionar com os outros e outra forma de experienciar seus sentimentos. A disputa e a rivalidade pressupõe a existência de ganhador e perdedor e consequente exclusão daquele que perdeu, assim como aconteceu na residência de Joana e na casa da amiga de Maria.
A instituição tem, neste momento, a oportunidade de retirar Maria dessa polaridade ganhador e perdedor, instaurando uma nova “ordem”, onde é possível conviver com o diferente. Essa possibilidade de trabalho, concretiza o resgate dos direitos da adolescente, direito à convivência comunitária, direito ao respeito e à dignidade. E é a entidade abrigo que consegue intervir na dinâmica das relações, que pode promover mudanças na vida desses adolescentes.
Outra parte da história de Maria, 15 anos
Depois da briga com outra adolescente, entretanto, Maria é “expulsa” do abrigo. Os educadores e funcionários decidem, como forma de punição, transferir a jovem para outra instituição, esclarecendo que as duas adolescentes não podem conviver no mesmo espaço, no mesmo ambiente. O desfecho “ou você ou ela”, a polaridade ganhador-perdedor, é encenada novamente. “Não há lugar para as diferenças”, esse é a moral apresentada à Maria. E novamente, ela é a perdedora.
Atransferência de abrigo reavivou o abandono e a rejeição e, após uma semana, Maria fugiu do “novo” abrigo. Não sabemos ao certo o que se passou pela cabeça da adolescente, mas é possível pensar sobre essa situação.
Considerações Finais
A história de Maria nos faz refletir sobre as formas de intervenção do Estado nos cuidados com crianças e adolescentes. Questionamo-nos: qual a forma de relação clientela / instituição que foi construída entre Maria e o abrigo? Parece-nos que a instituição estava encenando o papel de correção e disciplinarização, pautado na obediência às normas e na punição à transgressão.
Esta “maneira de atuação” reconhece no Código de Menores suas raízes e mantém-se como práticas nas entidades abrigo. Neste caso particular, as diretrizes e inovações propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente não se fizeram presentes. E porque isso aconteceu?
Podemos supor dois grandes obstáculos à modificação de paradigma e incorporação de práticas diversas e inovadoras: primeiro a vivência e a prática dos atores institucionais, segundo as características próprias das instituições.
Bleger, no ano de 1989, escreve: "qualquer organização tem tendência a manter a mesma estrutura do problema que tenta enfrentar e em função do qual foi criada. Assim o hospital, enquanto organização, acaba tendo as mesmas características que os próprios doentes: isolamento, privação sensorial, assujeitamentos, déficit de comunicações – a instituição sofre daquilo que pretende tratar."
Neste ponto, Bleger sugere certa imobilidade das instituições e a capacidade das mesmas de reproduzir a “doença”. No caso que apresentamos, podemos identificar a repetição, uma instituição que pretende incluir e proteger, marginaliza e desampara, ou seja, repete a exclusão social e a violação dos direitos de crianças e adolescentes. Nosso exemplo confirma as percepções de Bleger quanto as características das instituições.
Entretanto, sugerimos também como obstáculo o posicionamento dos atores institucionais, acrescentando outra dimensão à compreensão do fenômeno. Esta argumentação fundamenta-se na concepção das instituições conforme Marlene Guirado. A autora define instituição (1987) como “um conjunto de práticas sociais que se reproduzem e se legitimam, num exercício incessante do poder; um poder entre agentes, dos agentes com a clientela; um poder na apropriação de um certo tipo de relação como própria, como característica de uma determinada instituição”.
Para a autora, essas práticas institucionais não apenas reproduzem um determinado “problema”, mas também constroem e legitimam formas de atuação. Os atores institucionais não são meros reprodutores de um determinado saber e fazer da instituição, mas também se constituem neste fazer, “sujeitos constituídos nas e constitutivos das relações institucionais” (1986).
Neste sentido, falamos em instituições como uma prática, um verbo, uma ação. Entendemos a instituição em constante movimento, em um incessante fazer, e é esta prática que pode ser revista e refletida, são formas de atuação construídas cotidianamente e produzidas por um fazer dos atores institucionais.
Podemos perceber, portanto, que há um movimento incessante entre a repetição de antigos paradigmas e práticas e a incorporação de novas possibilidades e formas de atuação.
Ainda precisamos avançar, e, felizmente, estamos vivenciando um momento de mudanças, reordenamentos e investimentos nas instituições de acolhimento. É fundamental, entretanto, nos reconhecermos como produtores de práticas e saberes, assumindo nosso papel de agente de transformação.
Referências
- BLEGER, J. A instituição e as Instituições. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1989.
- BRASIL. LEI N° 8069/90, DE 13 DE JULHO DE 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente.
- GUIRADO, M. Instituição e relações afetivas. São Paulo: Summus Editorial, 1986.
- GUIRADO, M. Psicologia Institucional. São Paulo: EPU, 1987.