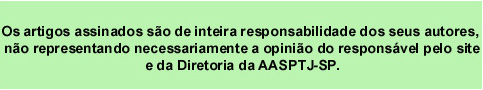Atendimento a Crianças e Adolescentes Institucionalizados: Reflexões sobre a Vivência Institucional da Família e do Serviço de Psicologia Forense
Este trabalho apresenta excertos de uma pesquisa sobre o tema realizada dentro de um serviço de psicologia das Varas de Infância e Juventude em São Paulo. Esta pesquisa foi realizada em dez diferentes instituições de abrigo para crianças carentes/abandonadas, abarcando um total de 40 crianças, cujas entrevistas e resultados dos testes foram analisados e incluídos de acordo com critérios de faixa etária. A manutenção de estabilidade do mundo interno das crianças (seu sentimento de segurança básico) deveria ser o objeto primordial de todo e qualquer projeto ou prática das instituições de acolhimento.
O sentido da vida da criança institucionalizada - assim como o de qualquer outra - não pode se subordinar a nada que não preveja seu melhor desenvolvimento, para a melhor qualidade de vida possível. Portanto, nenhum aspecto desta vida poderia estar subordinado a crenças ou ideologias que, muitas vezes, mudam a cada nova administração, a cada novo funcionário ou voluntário das instituições.
Entretanto, como expressa Altoé, ainda persiste uma imagem de um cotidiano institucional, onde a disciplina e o controle são os fatores mais evidentes na organização deste cotidiano." Entretanto compreeendemos que a "Obra", o Internato", a "Casa" (termos que comumente denominam as instituições de que falamos), ocupa um lugar de fundamental importância, o do "Outro". Torna-se depositária tanto das expectativas da sociedade, no que diz respeito a ser responsabilizada pela "salvação" e formação de crianças, quanto dos afetos infantis que originalmente foram ou seriam colocados nos genitores ou familiares próximos. Considerando a "visibilidade" social destas entidades (concretas), sua unicidade (são individuais enquanto estabelecimentos) e existência jurídica, percebemos que elas são passíveis de facilmente se tornar responsável por um frequente fracasso na socialização das crianças."
Socializar não deveria ser sujeitar a criança a determinadas ideologias (como a crença de que ambiente familiar é sempre superior a qualquer outro ambiente) ou a ordens burocráticas. Socializar é capacitar para o exercício da cidadania; que fala de direitos e deveres e que exige mais do que a sujeição dos corpos. Assim, é preciso que o gerenciamento do acolhimento de crianças tenha como diretriz básica o interesse das próprias crianças, levando em conta sempre as condições especiais que determinaram a institucionalização. Isto para que as vivências institucionais - somadas a um passado em geral dramático, pleno de separações e abandono - não tragam como consequência uma nítida dissociação entre experiência e linguagem.
Remetendo-nos ao Estatuto vemos que ele visa a normatização dos cuidados para com a infância e juventude, de forma a garantir-lhes as melhores condições para seu desenvolvimento, principalmente mediante o pressuposto fundamental da proteção integral à infância. Duas são as principais instituições sociais que se responsabilizariam por tal proteção: A família e a instituição de acolhimento. Assim como nas famílias os pais são responsáveis pela proteção necessária à infância, também nas instituições seus funcionários ou agentes igualmente se tornam responsáveis pelas crianças que abrigam. Por esta abordagem, o Estatuto acaba por definir os objetivos e deveres de tais instituições, e a qualificação necessária para a adequada condução da vida das crianças pelas quais passam a se responsabilizar.
Em seu contexto mais geral, o Estatuto destaca a ideologia de que a família, adotiva ou biológica, possibilita à criança o melhor meio para seu desenvolvimento. É sabido que a família no imaginário da sociedade, ocupa tal posição. A família, como a organização ideal para a criança tornar-se adulta, está no imaginário. Nós igualmente partilhamos tal concepção, no que diz respeito à famílias suficientemente adequadas. entretanto, especialmente ao considerarmos o atendimento prestado à infância via Judiciário, vemos que inúmeras são as famílias cujo cotidiano não corresponde a este imaginário. E é exatamente esta a realidade que requer nossa intervenção e a das instituições de acolhimento.
Tais questões são fundamentais na interpretação que se pretende dar à Lei: ela é representante de um discurso imaginário em seu ponto de intersecção com o Simbólico. Assim, o Estatuto se estabelece desde um marco, possibilitando a inserção da "falta" - que portanto não precisa permanecer totalmente desconhecida: Ele comporta o drama de crianças incompletas - a parte da incompletude que estabelece a subjetividade, o homem da Cultura - que não poderão reaver a convivência familiar. Daí sua função de interditar - desfazer a relação dual imaginária criança/instituição, pela ênfase na necessária inserção social desta criança. É também instrumento de apresentação de possibilidades de "nomeação" (modelos identificatórios): o resgate do significante abandono através da manutenção/preservação da história de vida das crianças; a colocação em família substituta ou a permanência institucional como consequência de uma afirmação definitiva do abandono inicial e uma substituição que seja apoiada numa falta, mas que instaure uma "presença" e não a manutenção de um ideal familiar ilusório ou de uma instituição inviável.
Vejamos o que diz o Estatuto sobre a "política de atendimento":
Art.92. - "As entidades que desenvolvem programas de abrigo deverão adotar os seguintes princípios.
I - preservação dos vínculos familiares;
II - integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem;
III - atendimento personalizado e em pequenos grupos;
IV - desenvolvimento de atividades em regime de co-educação;
V - não desmembramento de grupo de irmãos;
VI - evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
VII - participação na vida da comunidade local;
VIII - preparação gradativa para o desligamento;
IX - participação de pessoas da comunidade no processo educativo."
Art. 94. - "As entidades que desenvolvem programas de internação tem as seguintes obrigações entre outras:
III - oferecer atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos;
IV - preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente;
V - diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares;
VI - comunicar à autoridade judicária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares;
X - propiciar escolarização e profissionalização;
XIII - proceder o estudo social e pessoal de cada caso;
XIV - reavaliar periodicamente cada caso, com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente;
XV - informar, periodicamente cada caso com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente;
XVIII - manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos;
XIX - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem; XX - manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento de sua formação, relação de seus pertences, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento.
O Artigo 92 trata das entidades de abrigo e o 94 da entidades de internação. Percebemos que, quanto às entidades de abrigo, há uma referência ao que está fora: a família e a comunidade. O afeto aqui aparece sob a forma "preservação dos vínculos familiares". É de fato a referência ao ideal familiar, aos pais e mães externos e, também, as experiências vividas anteriormente pelas crianças. Não vemos aqui - na Lei - a nosso entender, a instituição identificada totalmente com a ideologia familiar, a não ser no sentido de um lugar de passagem. A instituição substitui em parte as funções familiares, mas há uma demarcação clara, pelo menos teoricamente (já que na prática é necessário verificar se isto é de fato possível) : afeto, vínculos e futuro pertencem a família. Co-educação ( compartihada portanto com a comunidade e a família) e manutenção da integração social, cabem à instiuição. A organização familiar determinaria, em parte, o funcionamento dos programas institucionais, mas não necesariamente, haveria uma anulação de um ideologia institucional - aqui entendemos que deva existir em algum ponto da realidade, uma ideologia institucional que, articulada à da família (ambas sociais), distancia-se dela justamente para devolver-lhe posteriormente seus "objetos próprios" (no caso, as crianças), por uma relação de, efetivamente, três elementos: a família, a Instituição e a criança. Assim, não caberia à instiuição suprir sua clientela de um novo contexto social, senão mantê-la vinculada a seu original. Resta saber como a instituição engendra meios para operacionalizar tal objetivo e a partir de quais referenciais.
Quanto a entidade com programas de internação, percebemos alguns fatores interessantes e complementares à análise anterior. A questão do afeto é desfocada, assim como a do "retorno ao convívio familiar". Não sabemos a princípio como se deva situar uma família que não voltará a existir, a não ser em algum ponto do discurso (imaginário ou simbólico) institucional ou dos adolescentes. Daí a necessidade de se preservar a memória: os dados, relatórios, históricos,objetos. É através da história que se preservará a ideologia familiar e se procurará "dar um salto" para o convívio social, principalmente através da educação - muito mais instrutiva que afetiva e muito mais voltada a uma inserção macro-social. Seria função desta entidade suprir efetivamente a falta de vínculos, seja preservando-os, seja resgatando-os. Em um primeiro momento nos parece que a articulação possível seja a do tempo-futuro (e não mais do tempo passado).
Como nos esclarece Marin, "a possibilidade de se situar neste contexto de saber de onde se veio, porque não se tem tudo, qual é o espaço determinado para si e para os outros, muitas vêzes é negado pela própria ideologia de que um dia... se teu pai e tua mãe ficarem legais e voltarem para te buscar, se tiverem mais verbas, se pudéssemos garantir um atendimento mais parecido como o de uma casa de família, se uma família legal te adotar, então... você será feliz e terá tudo que quer".
Muitas vezes, na operacionalização de programas, a Lei incorpora o imaginário sem reservas e, muitas vezes, o imaginário - cuja expressão corresponde, em parte, ao que chamamos opinião pública- pode se tornar rigído, estratificado, como se fosse uma Lei. Por isso, especialmente no que diz respeito as situações que envolvem a infância, a ideologia da superioridade inquestionável da família deve ser cuidadosamente relativizada. Tal ideologia não deve ser tomada como uma Lei e, neste ponto, o Estatuto traz a necessária ponderação que se origina nas situações de fato. A verdade de que nem sempre a família é o melhor meio de convivência para a criança, se concretiza quando famílias se envolvem em situações que as fazem perder o pátrio-poder ou quando se negam a exercê-lo.
À parte tais situações concretas, ainda é preciso questionar o alcance da ideologia que envolve as funções da família, no âmbito das próprias instituições de acolhimento. O lugar que o Estatuto delimita para as instituições de acolhimento é também um lugar de permanência, para a criança cujas possibilidades de retorno ao convívio familiar foram esgotadas. É um lugar necessário e também desejado como um outro recurso, potencialmente adequado para o cuidado integral para com a infância.
É preciso resguardar as diferenças entre instituições de acolhimento provisório e de acolhimento definitivo, considerando sempre a especificidade da história pregressa e atual da criança que se quer proteger. É preciso que as instituições, que acolhem crianças que crescem distantes de famílias, não sejam vistas com preconceito, inclusive pelos próprios agentes institucionais que, como parte da opinião pública, acreditam que as crianças institucionalizadas coube um destino de "segunda classe" e que nada do que seja feito será suficiente pois não há uma família - o que seria o ideal. Cabe sempre a revisão das ideologias do senso comum para que as funções institucionais não sejam prejudicadas; para que os diferentes objetivos que deveriam permear suas práticas (seja a manutenção de vínculos familiares, a aproximação de uma criança e uma nova família ou a estabilização e vinculação da afetividade infantil por meio das vivências institucionais) não sejam perdidos. A consequência da alienação em relação a estas questões é a manutenção de programas institucionais totalmente desvinculados das necessidades- diferenciadas- das crianças acolhidas.
Quanto à nossa atuação no serviço de psicologia da Vara de Infância e Juventude foi necesário dispormos de meios para uma escuta técnica que nos possibilitasse ouvir o que as crianças podem ou tem a nos dizer a respeito de sua relação com as três Instituições a que nos referimos (família, estabelecimentos de abrigo, judiciário). Também deveríamos chegar a uma instrumentalização, a fim de (re) situarmos nossas relações de auxílio a estas mesmas Instituições e às crianças internas. Nossos objetivos correspondem então, a duas vertentes:
1) a verificação da viabilidade de novas abordagens ou atribuições possíveis quanto a intervenção do Serviço Técnico de Psicologia da Vara de Infância e Juventude, utilizando como embasamento os resultados desta pesquisa.
2)relacionar contextos facilitadores de um processo de (re)socialização, cujo fundamento seja a capacitação das crianças institucionalizadas, para a construção de um identidade a partir das relações institucionais ( entre e com a família, o Serviço de Psicologia e as entidades de abrigo). Operacionalizamos este objetivo com um dispositivo que denominamos "diagnóstico situacional", envolvendo variáveis que possibilitassem a identificação de fatores importantes na relação criança/instituição; variáveis estas relacionadas a representações de tempo (antes, durante e após a internação, de espaço (dentro e fora da instituição) e de identidade - especialmente pelo estudo das relações possíveis entre as crianças e as Instituições.
Testes projetivos gráficos e entrevistas semi-dirigidas foram os dois tipos de instrumentos utilizados em nossa pesquisa de campo para a apreensão de expressões/representações gráficas e verbais. Consideramos que o estabelecimento de uma via de comunicação entre nós (pesquisadoras ) e as crianças, seria facilitada pelo uso do desenho. Compreendemos que uma inibição natural poderia ocorrer nas crianças frente a um primeiro e breve contato com as pesquisadoras (pessoas estranhas a elas). Também, que a utilização da linguagem de forma a expressar conteúdos mais profundos ou complexos poderia não ser possível ou ser dificultada, seja pela escassez de estímulos constantes neste sentido, seja por condição própria da idade das crianças entrevistadas. As três variantes desta possível dificuldade de verbalização - incapacidade natural, baixa estimulação do meio e desinteresse ou indisposição - nos levaram então a recorrer ao uso do desenho como intrumento complementar ou estimulador. Paralelamente, tais desenhos seriam utilizados para a obtenção de uma série de dados relativos a apreensão de modelos do mundo objetivo (índices de processos adaptativos); a mecanismos de identificação e expressão (influência da realidade subjetiva presente no desenho) - de acordo com os fundamentos teóricos e práticos que os validam enquanto testes projetivos.
O procedimento inicial de seleção dos sujeitos participantes da pesquisa, consistiu na consulta aleatória a processos em trâmite na Vara Central de Infância e Juventude, perfazendo um total de 198 autos envolvendo crianças e adolescentes instituicionalizados, de diferentes faixas etárias. Mediante esta consulta, identificamos as crianças, registramos suas idades, sexo e tempo de internação e listamos as instituições onde se encontravam abrigadas. Selecionamos então, aquelas na faixa etária de 7 a 13 anos, com uma vivência mínima de três meses de internação (a fim de que a amostra fosse composta de crianças com pouca e outras com muita vivência institucional).
A amostragem final constituiu-se de 40 crianças na faixa etária de 7 a 12 anos, sendo 19 meninas e 21 meninos.
A coleta dos dados foi realizada nas instalações onde se encontravam as crianças. Solicitamos aos responsáveis um local, onde pudessem estar unicamente a criança e a aplicadora. Cabe esclarecer que quando a pesquisadora se apresentava à criança se identificava como psicóloga da Vara de Infância e Juventude.
Dos dados obtidos, incluímos no relatório somente aqueles considerados de maior importância para o escopo da pesquisa, os que foram mais indicativos de relações ou noções internalizadas e projetadas nos desenhos, quanto ao espaço, tempo, identidade e Instituições já citadas.
Da nossa mostra, a denúncia verficada, era a forma de encaminhamento para abrigo de maior incidência, 35% dos casos. A porcentagem é praticamente a mesma para os casos em que os responsáveis solicitam a internação, 32,5%. Um cruzamento entre estas porcentagens e o recebimento ou não de visitas por parte dos familiares após a internação dá-nos uma imagem interessante a respeito da vinculação ou desvinculação que, a princípio, as quatro categorias(denúncia, responsáveis, terceiros, abandono)poderiam supor. Percebemos que, apesar da denúncia ser o tipo de encaminhamento mais frequente é também o que apresenta menor grau de desvinculação familiar.
Quanto à internação por responsáveis, há um aumento natural de casos em que os familiares deixam de visitar após a internação. Porém em uma parcela destes casos, alguns familiares permanecem mantendo vínculo com as crianças. Não há equivalência entre internação/separação e perda total das referências parentais. O abandono parece se configurar de uma forma definitiva apenas nos casos de internação por terceiros. Nenhuma criança internada por esta via recebe visita após a internação, em nossa amostragem. Observa-se que a distribuição das visitas é independente do tempo de internação.Portanto, tanto crianças há pouco, quanto há muito internadas, recebem visitas de seus familiares.
Apenas 20% das crianças passaram por momentos que se caracterizam por desinternações, o que contrasta com o índice de 52,5% que recebem visitas. No caso, 30% das crianças recebem visitas, mas nunca foi tentado um retorno ao lar - o que nos leva a pensar que não ocorreram as modificações necessárias para o reenvio da criança ao convívio familiar.
Uma das principais constatações possíveis quanto ao termo genérico família, é de que as imagens são preservadas, seja na expressão gráfica, na fala das crianças, ou no cotidiano institucional (as visitas).
O momento em que tal imagem se forma, pode remontar ao passado - a vivência ou a lembrança da família de origem- ou ao presente- quando o que se diz ou se mostra desta família ou de outra, é repetidamente ouvido e visto pela criança e vinculado a seus afetos ou recordações. Todas as crianças (mesmo aquelas há muito internadas, sem visitas) reproduzem estas imagens no desenho ou fala. Algumas crianças dão indícios claros de uma negação em focalizar o tema. A família nuclear completa constitui-se na imagem mais presentificada pelas crianças diante da instrução: "desenhe uma família" 47,4% das crianças entrevistadas, que é também o modelo esperado quanto à constituição das relações de filiação.
Das histórias contadas pelas meninas, destacam-se algumas tematizações: a) a dos papéis sociais de cada membro ou da família. b) da própria história real da relação familiar interrompida pela separação c) da adoção desejada. Os meninos apresentam histórias relativas ao ideal dos papéis sociais de uma família. Reconhecemos no mundo interno das crianças uma área onde a divisão família-instituição não é clara; a instituição aparece parcialmente no lugar da família( seja no desenho, na história ou no "silêncio"). A porcentagem de crianças que representam a imagem da instituição como a de uma família, corresponde a 10% dos casos.
Partindo deste ponto de intersecção, procuramos outras imagens da instituição, não diretamente associadas às imagens da família. A imagem da instiuição apareceu, quando de um pedido de representação de uma família ou de uma história sobre esta, como a descrição de uma rotina. Parece que por não haver outra coisa que apareça frente ao significante família, surgem os significantes do cotidiano institucional.
A imagem da instituição equivaler à descrição de rotinas, é um sinal de que a criança aprende esta rotina e a internaliza.
Por que as crianças estão na instituição?
Os motivos alegados são os mais diversos. Muitas crianças enumeram mais de um motivo e a fala mais representativa, é: "Devem ter algum problema". A falta de moradia aparece correlacionada à casa que geralmente falta à criança, à mãe. Podemos ver que todos esses casos situam a instituição como lugar alternativo à falta do que seria a família e suas funções.
Quanto às imagens do judiciário, verificamos que as crianças utilizam-se basicamente de dois significados: o Fórum e o Juiz. Se elas necessitam de referências concretas bem estabelecidas em seu mundo de representações da vida (por estarem na latência), é esperado que o lugar físico e a figura de autoridade (juiz), sejam suficiente para ocupar lugares funcionalmente semelhantes aos da Casa e dos pais.
Assim, quantitativamente, as representações espontâneas deste "terceiro termo"- judiciário- se assemelham a de um outro terceiro termo - o pai. É interessante que a escola também apareça como presença marcante no cotidiano dessas crianças, mediando a relação criança-instituição.
Todas as representações sobre as relações da criança com a instituição representante da justiça, aparecem concentrados em dois momentos: estórias sobre o desenho da família e nas respostas à primeira pergunta da entrevista final (Por quê você acha que as crianças moram aqui?).
Conclui-se que o Juiz é para as crianças, o representante máximo, da autoridade, ou das situações que envolvem ir ao Fórum. Entretanto, resta salientar que nenhuma criança se refere espontaneamente a algum outro representante deste mesmo lugar ou das situações ali vividas. Isso nos leva a questionar se de fato temos aproveitado plenamente não somente o espaço que temos para o atendimento a estas crianças, como também a própria força que caracteriza as representações que elas são capazes de organizar sobre fatos básicos de sua situação sócio- familiar ou jurídica, ou sobre sua dependência das decisões que se dão no âmbito do Fórum.
Finalizando nosso relatório demarcamos a importância de duas condições para a organização da nascente subjetividade infantil. A estabilidade e a significação da história desta vida relacional. A estabilidade e a participação nas decisões de "descontinuar"(ainda que não deliberativas) são essenciais para que a criança veja utilidade na aquisição de uma linguagem.
Podemos chegar a um paralelo entre família e instituição (como lugar de permanência, de estabilização e de significação de vida). Ambas com um mesmo objetivo: o necessário cuidado e proteção à infância.
Altoé utiliza o termo "serialidade" para estabelecer uma diferenciação entre a realidade da massificação e a dos grupos. Se os internos são tratados como série não podem ser um grupo. A serialidade pressupõe a diluição das características individuais.
Para a inserção na sociedade, a criança precisa daquelas características e aptidões que só a participação em grupos pode garantir. A urgência para a solução de problemas de sobrevivência faz com que predomine a serialidade no cotidiano das crianças internadas. É preciso encontrar soluções para reformular antigas práticas, respeitando os direitos adquiridos bem como os limites e possibilidades reais.
A pesquisa demonstrou adultos que desconhecem e até punem as manifestações de afeto e desejo infantil. Resta-nos sugerir que tais manifestações sejam permitidas, ouvidas, aproveitadas e atendidas. Para que as instituições de acolhimento sejam reconhecidas como lugar de formação, há uma infinidade de grupos que podem se formar: grupos de crianças que se reunem para ouvir e contar estórias (transformando seus medos e dúvidas em personagens e situações), grupos que podem desenhar livremente, de recreação dirigida mas também com atividades livres, grupos que dispõem de doses crescentes de liberdade para organizarem seu próprio espaço dentro da instituição (seu quarto, suas coisas), grupos que comemorem a passagem do tempo (aniversários, fins de semana, etc...), grupos que podem ir ganhando responsabilidadades, compreendendo o porquê das normas, adquirindo funções e iniciativa, grupos que se encontram com outros grupos que também convivem em instituições, e outros.
A partir desta pesquisa, reafirmamos a necessidade de ampliar nossos atuais dispositivos(e até objetos) de intervenção junto às instituições de abrigo e junto às famílias e crianças envolvidas em situações que requerem a instituicionalização.
A maior parte dos casos possuem um caráter de imprevisibilidade e indeterminação. Porém, a rapidez com que se deve proceder a estabilização das vivências relacionais da criança falam da importância de facilitar e/ou promover a definição das situações.
A extensa bibliografia relativa à área, coloca a necessidade de aperfeiçoamento teórico e técnico, além de questões relativas à especialização.
A ausência de fala das crianças sobre a figura do técnico do judicário indica estar próximo ao lugar que elas estavam ocupando em nosso atendimento: "passagem", não totalmente aproveitado.
A criação de Seções Técnicas nas Varas de Infância e Juventude, especializadas em questões relativas à institucionalização é um dos caminhos para a partir deste lugar de passagem alcançarmos um lugar de permanência; permanência da integridade física e psicológica de nossas crianças.
Referências bibliográficas:
Altoé, S. Infâncias Perdidas - o cotidiano dos internatos-prisão, Rio de Janeiro, Editora Xenon,1990
Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8069 de 13/7/90
Marin, I. S. K. Febem, Família e Identidade (O lugar do outro) São Paulo, Editora Babel Cultural, 1988