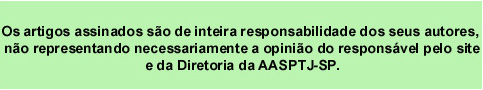Crianças e Adolescentes (Des)acolhidos - A perda da filiação no Processo de Institucionalização
Este texto apresenta algumas considerações sobre minha dissertação de mestrado "Crianças e Adolescentes (Des)Acolhidos- A perda da filiação no processo de institucionalização", defendida em Out/2001 no Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica - PUCSP.
Introdução
Minha aproximação com a realidade da criança institucionalizada ocorreu a partir da prática profissional como assistente social no Tribunal de Justiça - Vara da Infância e Juventude de São Paulo.
A institucionalização de crianças em abrigos é um fenômeno complexo, realidade contraditória que comporta particularidades diversas, sendo fonte para tantos e necessários estudos. Entretanto, a realidade dos abrigos e a prática profissional junto às chamadas crianças e adolescentes carentes sob a medida de proteção "abrigo", ainda é pouco conhecida em sua totalidade e pouco desperta a atenção da sociedade para este debate.
Os motivos que levam à institucionalização de uma criança aparecem de imediato circunscritos ao âmbito da família -"desestruturação familiar" por problemas mentais, uso de drogas, prisão dos pais, negligência, abandono, pobreza. Mas as famílias são em sua maioria de uma classe social específica - pobres - e vivem num contexto histórico determinado onde a própria vivência da pobreza se mostra diferenciada nos diversos momentos da história, estando atualmente agravada pelas intensas conseqüências do desenvolvimento acelerado do capitalismo que gerou uma massa sobrante cada vez maior, com menor condição de ter minimamente supridas suas necessidades básicas, nem pela via do trabalho e nem pela via da assistência social.
Nos últimos anos, norteada por uma definição de política de municipalização da execução da medida protetiva "abrigo", veio ocorrendo a terceirização de muitos abrigos do Estado, cuja direção foi assumida por instituições particulares. É evidente o processo de transferência de responsabilização do Poder Executivo no trato com a infância institucionalizada. Mas este é um processo silencioso, quase anônimo e as conseqüências para os abrigados, apesar de vividas intensamente por eles, são também silenciadas na singularidade das experiências individuais.
Em torno da criança carente é forte o movimento de "refilantropização social". A área da assistência a infância é a que mais mobiliza a atenção do terceiro setor e do voluntariado. O que nos leva a pensar que é cada dia mais necessário que se promova o debate sobre sua representação na sociedade, suas necessidades e seus direitos, para que os avanços já ocorridos sejam incorporados pelos "novos atores", bem como, possa-se caminhar ainda mais na direção da construção de práticas que contribuam para sua autonomia e cidadania, como verdadeiros sujeitos de direitos.
Relevância do Poder Judiciário e dos autos processuais como fonte de pesquisa
Ao pesquisar os estudos mais dirigidos sobre a institucionalização de crianças, percebi que as abordavam aspectos específicos do tema, em geral, psicológicos. Dos estudos aos quais tive acesso não encontrei um que abordasse a questão das práticas judiciárias como determinantes da realidade da criança institucionalizada.
Diante da novidade que isso representa no contexto dos estudos que existem sobre o tema, bem como da relevância do papel do Judiciário no encaminhamento de decisões referentes à vida da criança e do adolescente institucionalizados, concluí que minha contribuição maior seria trazer à tona uma reflexão que tivesse como suporte a pesquisa realizada a partir das práticas judiciárias com essa população.
O Poder Judiciário exerce um papel de extrema relevância no trato com a criança institucionalizada, pois, além do acompanhamento dos casos de criança abrigada, também é de sua responsabilidade a fiscalização das instituições que abrigam, conforme o art.95 do ECA: "as entidades governamentais e não governamentais, referidas no art.90, serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares."
Num "mar" de diversidade de instituições de abrigo e de situações de crianças abrigadas, a Vara da Infância e da Juventude aparece como elemento comum, capaz de conhecer a singularidade e a particularidade das crianças abrigadas, visto que sua intervenção ocorre em dois níveis:
específico- quando acompanha a situação de uma criança abrigada na instituição "X"
abrangente- quando fiscaliza a instituição que abriga "X" crianças
Da pesquisa nos autos
O enfoque escolhido foi o extremo da situação de abrigamento: aqueles que a vivem não provisória, mas permanentemente (até a maioridade) e não têm a possibilidade da convivência familiar, contrariando dois importantes princípios colocados pelo ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente.
Assim, a pesquisa tomou como sujeitos aqueles que perderam vínculo com família de origem, estando liberados judicialmente para adoção, mas que já não contam mais com essa possibilidade. A partir dos registros em 14 autos processuais (referentes a 31 crianças e adolescentes) de três VIJ's da Capital, realizou-se a busca dos elementos que contribuíram para a não provisoriedade do abrigo e a não concretização do direito à convivência familiar, seja junto a família de origem, seja junto a família substituta, conforme os princípios colocados pelo ECA.
Em síntese, pode-se dizer que as crianças e os adolescentes, sujeitos da pesquisa são paulistanos, pardos, sendo a faixa etária acima de seis anos, estando a maioria entre 9 e 15 anos, abrigados sozinhos ou com irmãos, sendo a representatividade dos grupos de irmãos muito maior, em virtude de se referir em média a 3,l membros por grupo. Aos sozinhos, a prevalência é do sexo masculino e nos grupos de irmãos, feminino, existindo equilíbrio no cômputo geral. A maioria deles acumula longo tempo de convivência com a família e longo período de abrigamento. Em seis processos, tratava-se do segundo abrigamento.
Considerando o processo de gradação no que se refere a oportunidade de inserção em família substituta por meio da adoção - quanto mais nova, de pele mais clara e menor a quantidade de irmãos, maior a possibilidade de serem adotados - tais crianças e adolescentes são aqueles que são considerados como "inadotáveis".
O motivo que levou ao abrigamento, em geral, fez parte de uma complexidade de fatores, sendo difícil apontá-lo a partir das categorias normalmente utilizadas como situação socioeconômica precária, abandono, maus tratos ou negligência. A grande maioria deles ocorreu a pedido da família ou de terceiros, diretamente nas instituições que fazem o encaminhamento das crianças para abrigos, aparecendo como motivos: a falta ou precariedade da moradia, de alimentação e de trabalho, a saída do provedor do lar, a exposição à violência do envolvimento com drogas, a vivência de rua, etc.
Se por um lado, a mãe apareceu como uma figura central nos processos, por outro, revelou-se um "perverso" protagonismo, visto que em grande parte dos casos, pouco se conheceu sobre suas histórias de vida, o que possibilitaria uma ampliação de perspectivas no que se refere ao atendimento das necessidades da criança, que é o enfoque do trabalho nas Varas da Infância e Juventude. A pesquisa revela que para algumas, ao buscar o recurso ao abrigamento como forma de proteger os filhos, a mulher/mãe passou a ser submetida à avaliação sobre sua capacidade de ser mãe e reassumir os cuidados com os filhos, podendo-se dizer que a destituição do pátrio poder revela-se como julgamento de sua incapacidade. Entretanto, para os pais que registraram essas crianças, essa sentença pode ser considerada como "virtual", pois na verdade sequer chegaram a tomar conhecimento dela.
Foi a questão do contato irregular ou da falta de contato após o abrigamento que, somada às dificuldades familiares em assumir a criação da criança, forneceram indicativos para o pedido de destituição do pátrio poder, sendo que mesmo legalmente disponíveis para adoção, não se conseguiu localizar candidatos para a adoção tardia e de grupo de irmãos.
Pode-se dizer que para grande parte dos casos desta pesquisa, o momento do pedido da destituição do pátrio poder foi regido por uma equação que, tomando como paradigma a provisoriedade do abrigo, realizou um balanço entre a (im)possibilidade da criança ser reassumida pela família de origem e a chance de ser adotada por uma suposta família substituta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa revela o drama de uma grande quantidade de crianças expostas ao não direito à convivência familiar, pois mesmo estando liberados para adoção, não encontram pessoas dispostas a enfrentar o desafio da adoção tardia e de grupo de irmãos e tampouco outros tipos de programas que promovam a convivência em meio familiar.
A condição de miserabilidade das famílias das crianças e adolescentes institucionalizados, bem como a falta de programas sociais básicos a serem oferecidos pelo Poder Executivo aparecem como base dessas situações. A medida 'abrigo' que deveria ser provisória acabou se tornando permanente, visto que a partir da institucionalização diversos outros determinantes, além daqueles que motivaram o abrigamento, passaram a concorrer para o desligamento entre a criança e sua família, incluindo as práticas profissionais jurídicas tanto do abrigo, quanto do Judiciário.
A pesquisa mostrou que alguns dos sujeitos da pesquisa tiveram que lidar com a marca do abandono explícito, às vezes até dos maus tratos, existindo um não pertencimento mesmo dentro da família. Tais situações levaram-me a considerar que em muitos casos nem a mais ética, competente e comprometida prática profissional poderia reverter vivências tão distantes das mínimas necessidades básicas para o desenvolvimento humano. Especialmente para esses, a inserção em família substituta, ainda que (ou especialmente) por meio de programas de guarda familiar, seria o modo mais saudável de protegê-las e ajudá-las a lidar com seus sofrimentos.
Mas a pesquisa evidenciou que para muitos sujeitos da pesquisa, o princípio da provisoriedade da medida "abrigo", colocado pelo ECA, acabou por funcionar como uma forma de pressão no encaminhamento da situação para uma resolução abreviada. Muitas vezes, considerando a idade já avançada da criança para que se encontrassem interessados em sua adoção, essa pressão acabou implicando em pouco ou nenhum investimento junto à família de origem e mesmo junto à criança, precipitando uma situação que revelou-se em grande prejuízo, visto ter sido promovida a ruptura definitiva com a família natural, não se concretizando a inserção em família substituta.
Para muitos casos desta pesquisa sequer foi permitida a visitação dos familiares após o abrigamento, o que, numa associação com as dificuldades da família em desacolher os filhos, acabou gerando a condição de desfiliação. E a medida de institucionalização, apesar de ter oferecido proteção por meio das condições de moradia, saúde e escolaridade, reproduziu abandono e negligência quanto à necessidade de preservação da convivência familiar.
Tenho convicção de que muitos dos sujeitos da pesquisa não precisariam estar privados do contato familiar, se pudessem ter conhecido mais sobre suas mães, sua rede de parentesco, etc. Se a própria criança pudesse ter tido mais voz; se de fato fosse considerada como sujeito não só de direitos, mas sujeito de uma história, saber-se-ia antes de se encaminhar a situação de sua condição de desfiliação, que o seu maior desejo e necessidade era manter o vínculo com sua mãe, com sua família de origem, por mais "desestruturada" que fosse.
O princípio da provisoriedade do abrigo parece ainda ser irrealizável diante do quadro de pobreza e da falta de programas sociais que atendam as necessidades básicas de famílias e crianças e o seu atendimento também precisa ser compreendido no contexto da sociedade econômica em que se insere para que não se reproduzam os "Filhos do Estado", "Filhos do Governo", "Filhos da Solidão", ou seja, os filhos de ninguém.