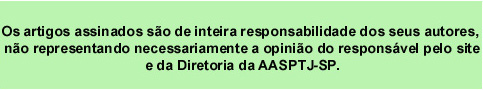Sobre o Estudo Social
As presentes considerações a respeito de procedimentos e conteúdos que permeiam o estudo social, são decorrentes de um processo de reflexão e sistematização de pesquisa quantitativa sobre a condição socioeconômica de pessoas que perderam o pátrio poder(1), em processos tramitados em Varas da Infância e Juventude (VIJ) da comarca de São Paulo(2). Durante a pesquisa, as participantes depararam-se com a ausência de algumas informações fundamentais, não somente no que se refere ao conteúdo do estudo social, mas ao conteúdo do conjunto das peças que compõem os processos. Tal fato instigou a reflexão sobre quais informações necessitam constar nas peças que compõem os autos, notadamente nos registros dos estudos sociais e também sobre as causas da escassez de dados em muitos desses registros. Levou, ainda, a reflexões sobre questões relacionadas à identidade do profissional assistente social no âmbito da instituição judiciária. Os estudos efetuados pelo grupo no decorrer da realização da pesquisa e a articulação com situações que as pesquisadoras conheceram por meio do trabalho em Varas da Infância e Juventude, foram muito produtivos para avaliar esses aspectos e tecer considerações sobre algumas respostas. Sintetiza-se a seguir alguns dos resultados desses estudos, salientando que a abordagem sobre o estudo social aqui apresentada refere-se às diversas ações nas quais é solicitado e não apenas às relacionadas `a medida da perda do pátrio poder.
Para se pensar a respeito do tema “estudo social”, é importante a análise do papel e das atribuições do profissional assistente social no Judiciário. Quando alguém comparece nas dependências onde estão instaladas as Varas da Infância e Juventude para solicitar alguma orientação ou providências com relação a uma criança ou a um adolescente, muitas vezes é atendido e tem seu pedido encaminhado por meio desse profissional(3). Via de regra, é o assistente social quem realiza a triagem dos casos elegíveis à instituição judiciária no âmbito das VIJ (em algumas Varas com a participação de psicólogo). Portanto, está na “linha de frente” dos primeiros contatos da população com essa área da justiça, estabelecendo, também, uma relação de intermediação entre a instituição e o sujeito que pleiteia o atendimento institucional. O primeiro atendimento realizado por profissional do Serviço Social geralmente consiste da formulação de um pedido e já contém alguns dados da situação social dos envolvidos.
Nesse sentido, se o profissional não estiver atento às especificidades de suas funções, pode existir o risco de que sua intervenção, na qual está incluída a realização do estudo social, venha confundir-se ou limitar-se ao ato da apresentação do pedido dos interessados, mantendo-se, assim, uma interação superficial, que não consegue superar a aparência e chegar mais perto da realidade, das tramas, dramas e conflitos que levaram aquelas pessoas ao Judiciário. É necessário clareza de que a função do profissional de Serviço Social, mais do que a intermediação, pressupõe o investimento na mediação profissional(4), por meio de “recursos, instrumentos, técnicas e estratégias” que lhe possibilite operacionalizar os “fundamentos teóricos, técnicos, políticos e éticos” pertinentes à sua área de formação.
Para realizar uma discussão mais ampla sobre estas questões, seria necessário refletir também a respeito da inserção do Serviço Social na divisão sociotécnica do trabalho e sobre a identidade da profissão, a qual engloba a construção histórica do papel do profissional dessa área e suas especificidades no Poder Judiciário – o que não é o objetivo deste trabalho, no momento. Todavia, um aspecto importante a ressaltar, é que, historicamente, ao assistente social são muitas e diversas as funções atribuídas. Atribuições que necessitam ser objeto de análise mais rigorosa, pois, algumas vezes, no caso do Judiciário, mesmo sendo da competência de outros profissionais e agentes, podem acabar sendo incorporadas parcialmente por ele.
É nesse sentido que se considera importante a reflexão sobre a relevância do estudo social e a necessidade de que o profissional tenha clareza de suas atribuições. Nessa direção, é importante também salientar, conforme Martinelli (1993, p. 138) que “cumprir a missão institucional não é tarefa de uma pessoa ou de um grupo profissional, mas sim de um sujeito coletivo.”
Sendo o assistente social um profissional que participa da articulação estabelecida entre usuário e instituição, sua intervenção, no caso, é perpassada por interesses institucionais e interesses daqueles que recorrem à justiça. Realizando um trabalho que envolve relações sociais e intervindo em situações de natureza jurídica, os profissionais do Serviço Social devem saber articular e manejar as normas institucionais e sociais que visam possibilitar efetivamente o acesso dos usuários aos serviços da instituição.
Considerando as informações coletadas na pesquisa e também a ausência de alguns dados de interesse, aliados a observações advindas da experiência profissional das pesquisadoras, registra-se aqui alguns pontos que mais chamaram a atenção do grupo e que pareceram importantes para o conhecimento mais global da realidade social dos sujeitos com os quais os profissionais interagem, independentemente da medida judicial que pleiteiam.
Não se pretende indicar “receita” ou “modelo” metodológico sobre o estudo social ouapontar quais são todas as informações e análises que esse estudo precisa revelar sobre as pessoas envolvidas nas ações, mas sim, pensar que é necessário uma atitude profissional que implique na busca de se conhecer de forma mais ampla e de ter maior interação com o real que se apresenta no cotidiano da prática. É preciso empreender e investir nos caminhos que busquem a superação do que aparenta ser. Esse movimento poderá dar indicações sobre a forma e o conteúdo dos estudos e do registro dos mesmos.
Para embasar esse debate, vale retomar aqui algumas considerações sobre o movimento desse trabalho nas Varas da Infância e da Juventude da comarca de São Paulo. Esta esfera da Justiça, nesta capital, conta com equipe técnica composta por assistentes sociais e psicólogos, responsáveis pelo atendimento às pessoas que “recorrem” à instituição, notadamente, a população infanto-juvenil e suas famílias. Tal atendimento visa, principalmente, ao conhecimento objetivo e subjetivo de suas demandas, as quais, interpretadas e transcritas em um relatório, servem de subsídio à decisão judicial – conforme previsto nos artigos 150 e 151 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
Em São Paulo, o profissional de Serviço Social passou a atuar junto ao Poder Judiciário no final da década de 40 e o psicólogo a partir dos anos 80. Contando com maior ou menor volume de recursos materiais e humanos nas diversas Varas, instalados em espaços físicos nem sempre compatíveis com a necessária privacidade e o mínimo de conforto, lutando com dificuldades para conquistar e garantir condições para o aprimoramento técnico-científico, esses profissionais vêm ao longo de sua história na instituição judiciária buscando firmar-se como componentes de um serviço indispensável ao adequado andamento da Justiça da Infância e da Adolescência e da Família.
O conhecimento da realidade de vida dos usuários dessas esferas da Justiça foi previsto no Código de Menores de 1927 (Decreto 17.943 A, de 12/10), com a participação do médico psiquiatra e do comissário de vigilância, mantido no Código de Menores de 1979 (Lei 6.697, de 10/10), o qual previa pessoal técnico ou habilitado para o estudo de cada caso, e explicitado no ECA, conforme já mencionado. Respaldada em diferentes visões de mundo, a indicação da necessidade do auxílio de outras áreas do conhecimento para suporte à ação judicial, reflete os diferentes momentos históricos que construíram as legislações.
Com a introdução do Serviço Social no âmbito do Judiciário, a metodologia de intervenção que passou a ser utilizada foi a do, então denominado, Serviço Social de Casos Individuais, desdobrado em suas três etapas: estudo, diagnóstico e tratamento. Tal metodologia, com maior ou menor ênfase em cada intervenção e com algumas alterações na maneira de operacionalizá-la, foi a que se estabeleceu como a principal forma de agir do assistente social nesse espaço de trabalho, influenciando até hoje sua operacionalização, ainda que o referencial teórico da profissão tenha passado nesse período por muitos debates e avanços, os quais implicam numa abordagem mais totalizante das situações.
Nas práticas contemporâneas, o que se observa é que a abordagem individual na esfera da Justiça da Infância e da Juventude, não difere muito, em termos de forma, do modelo tradicional do “Serviço Social de Casos”. Observa-se que esse estudo é diferente, por vezes, em termos de conteúdo.
Na contemporaneidade, “ ... o estudo social se coloca como suporte fundamental para a aplicação do ECA, estudo que, embora deva se pautar em critérios mínimos, não existe enquanto um “modelo ideal” que implique em conteúdos idênticos quando, por exemplo, elaborado por diferentes profissionais” (Fávero, T. F, 1998). O que se avalia como necessário, é o estabelecimento desses critérios mínimos para as análises, que devem ser norteadas por conceitos de família e de sociedade que considerem o permanente movimento do real e que se pautem pela visão do ser humano enquanto sujeito de direitos. Nesse sentido, o estudo não deve ser elaborado com base em questões preestabelecidas, por exemplo, em um roteiro ou formulário, mas sim em diretrizes que permitam levar em conta as semelhanças e diferenças entre cada sujeito ou situação.
Nessa perspectiva, o estudo social, enquanto abordagem que visa chegar o mais próximo possível do conhecimento das dimensões do real que envolvem a criança, o adolescente e a família que são atendidos nas VIJ, deve buscar “ ... conhecer e trabalhar com a história de vida dessas famílias, resgatando suas formas de ser, pensar, se colocar e se relacionar com o mundo (...). Uma história que necessariamente articule as dimensões que envolvem as relações pessoais e as relações socioculturais e políticas da realidade mais ampla na qual a criança ou o adolescente e a família se inserem” (ibid).
O domínio dos instrumentos e técnicas que operacionalizam a ação é de fundamental importância. Entretanto, é necessário levar em consideração que as técnicas “ ... não têm valor em si mesma, elas se valorizam a partir das perspectivas que lhe dão feição” (Kameyama, 1995, p. 104). Concordando com essa forma de pensar, avalia-se que a busca do conhecimento dos sujeitos ou das relações sociais das quais participam, deve tomar como ponto de partida a categoria da totalidade, a qual implica, conforme Goldmann, que todo “ ... fenômeno social ou cultural, tem que ser visto como parte de uma totalidade mais ampla ...”, que é estruturada, não homogênea. Uma estrutura totalizante, que se define pelo tipo de relação, de articulação estabelecida entre as partes e o todo (Goldmann, apud Löwy, 1986, p. 67).
As situações ou os fenômenos com os quais os profissionais lidam no trabalho cotidiano, ainda que no imediato apareçam como que individualizados, estão inseridos em uma dinâmica constituída por diversos fatores, que os construíram e os determinaram; foram forjados em determinadas condições históricas e precisam ser consideradas com base no todo que os constituíram. A realidade imediata que uma determinada situação coloca à frente do profissional revela fatos e dados empíricos. Esta necessita, todavia, ser pensada na sua relação com a situação sociohistórica e cultural que a engendrou, ou seja, as expressões particularizadas da questão social que se apresentam no cotidiano do trabalho precisam ser pensadas na sua relação com a história e serem desveladas na direção da concretização de uma intervenção compromissada com mudanças na realidade. É preciso “ ... definir claramente a natureza do fenômeno, sua relação com outros fenômenos da vida social, bem como as bases do seu surgimento” (Martinelli, 1993, p. 139). Torna-se necessário penetrar na complexidade da realidade de cada situação, buscando “ ... apreendê-la enquanto totalidade composta por determinantes políticos, sociais, econômicos, culturais e históricos” (ibid). É preciso, baseando-se na vida cotidiana, na qual o profissional se depara com os dados empíricos, buscar aproximações sucessivas para se chegar a um contexto mais amplo que forneça elementos para a compreensão e a explicação desse cotidiano.
O que implica, também, na facilitação aos usuários da reflexão sobre sua vida e a complexidade que a permeia, compreendendo-se como ser inserido em um processo social, em contínua transformação.
A busca da realização do estudo social de forma mais completa possível, ainda que eventualmente o profissional se depare com intercorrências como o fator tempo (em situações emergenciais ou em razão de grande demanda) ou relações institucionais desfavoráveis a uma ação mais abrangente e conseqüente, contribui para o fortalecimento e o respeito ao trabalho profissional.
Dessa maneira, e partindo do próprio trabalho profissional das autoras e das constatações realizadas pela pesquisa, pretende-se aqui indicar alguns pontos considerados significativos na realização de tais estudos – levando em conta sempre que o assistente social trabalha no âmbito das relações sociais, as quais necessitam ser analisadas em sua dinamicidade.
O conteúdo do estudo social é composto por um conjunto de informações sobre os sujeitos e os acontecimentos nos quais estão envolvidos, acontecimentos estes que culminam, na situação pesquisada, com ações que se processam no âmbito da Justiça da Infância e da Juventude. O primeiro passo a ser dado é se perguntar o que obter, como, para que conseguir tais informações (ver Relatório Técnico, FEBEM, 1998) e para quem. Considerando-se a perspectiva de que a análise deve se guiar por uma visão histórico-crítica, as dimensões dessa visão precisam ser contempladas nas respostas às questões formuladas. Tais dimensões compreenderão o mundo objetivo do sujeito, base para a formação de sua subjetividade, a qual, num trabalho interdisciplinar, deve ter sua análise contemplada também por meio da avaliação psicológica e de profissionais de outras áreas que venham a compor uma equipe.
Embora cada situação tenha sua singularidade e diferencie-se de outras, e determinados aspectos da história de cada pessoa ou da especificidade da situação vivenciada precisarão de menor ou maior ênfase, há um conjunto de informações fundamentais que deve fazer parte do conteúdo do estudo social. Informações a serem obtidas sobretudo por meio de entrevistas (transcorridas nas dependências das VIJ ou em visitas domiciliares ou em instituições), as quais, para se realizarem adequadamente, precisam pautar-se na busca do estabelecimento de vínculos de confiança, compreensão e apoio entre profissional e usuário.
E quais são algumas das informações importantes para serem contempladas em um estudo social, ainda que atentando para as semelhanças e diferenças entre as pessoas?
O assistente social, nessa área de intervenção, trabalha com técnicas de história de vida. Este instrumental necessita recuperar uma história que possibilite o conhecimento do movimento do real, que respeite o outro enquanto sujeito de direitos, e que não sirva de suporte a eventual punição. Uma história que contemple a origem dos sujeitos, sua trajetória e suas condições no presente, destacando-se seu processo de socialização, o âmbito de suas relações familiares (vínculos com o núcleo original ou a família extensa, existência de laços a serem resgatados, expressões das relações de gênero, relacionamento com a criança/adolescente envolvida na ação), relações de vizinhança, inserção em grupos sociais, formação educacional e profissional, inserção nas relações de trabalho (formal ou informal), renda, meio ambiente, situação de moradia, situação de saúde, vínculo com seguridade social, dependência e inserção (ou não) na rede de atendimento social, o que desencadeou a questão vivida (objeto da ação judicial), como vê ou qual o significado que atribui a essa questão, como a vivencia, suas pretensões, interesses e condições para lidar com ela, quais seus sonhos, desejos, projetos de vida.. Enfim, uma história que explore a complexidade da vida dos sujeitos, tendo claro que muitas vezes é com base nessas informações que a decisão judicial é tomada. E estando atentos, principalmente, para que tal estudo não se transforme em um inquérito ou investigação policialesca.
Tais informações, relatadas de forma completa, porém com objetividade, devem ter como meta o conhecimento do outro, respeitando sua forma de ser, sem atitudes preconceituosas ou com base em juízos de valor. O relatório ou laudo elaborado pelo profissional deve apresentar as informações mais significativas do conteúdo apreendido por ocasião do estudo realizado. O relato comunica informações, ou seja, vai compartilhar com outros uma determinada visão de uma situação, o que exige que essa comunicação se dê de forma o mais clara possível, para que seja compreendida: “Informar não é simplesmente relatar ou copiar fatos ou dados. Informar implica em relacionar e interpretar dados” (Barros et al, 1968, p. 10). Interpretação que deve ser de cunho social, político, econômico e cultural, e considerando sempre que o ser humano está sujeito a mudanças. Assinale-se também, que o estudo deve contemplar um parecer claro acerca de cada situação, o que não significa um parecer sempre conclusivo.
É importante lembrar que o estudo/intervenção profissional do assistente social não deve se apresentar como suficiente para o conhecimento global dos sujeitos. Deve pautar-se, sim, em uma perspectiva interdisciplinar que articule o trabalho do assistente social com o dos outros profissionais locais e que estabeleça relações com uma rede de atendimento, de forma a encaminhar e acompanhar as situações atendidas, quando a situação assim o requerer. Ressalte-se que tal forma de pensar não ignora a ausência do Estado na proposta e na implementação de políticas e programas sociais, na direção da efetivação de uma rede de atendimento ampla – o que, geralmente, dificulta, sobrecarrega e limita o trabalho cotidiano nessas áreas.
O conhecimento dos limites não impede, contudo, a percepção de que é necessário ter clareza de que o estudo social é capaz não só de apresentar quem são aquelas pessoas solicitadoras ou que são objeto da medida judicial, mas também quem são os profissionais assistentes sociais que, no caso de São Paulo, há mais de 50 anos disponibilizam seu conhecimento e a especificidade de suas funções para a instituição judiciária, e o que desejam construir, hoje e no futuro.
(1) O novo Código Civil, em vigor a partir de 2003, muda a denominação “pátrio-poder” para “poder familiar”.
(2) Pesquisa publicada pela Veras Ed. sob o título “Perda do Pátrio Poder – aproximações a um estudo socioeconômico”, com patrocínio da Fundação Orsa (distribuição gratuita/tiragem esgotada). Resultado de estágio de pesquisa de doutoramento, de Eunice T. Fávero, contou com o trabalho das pesquisadoras que assinam o presente texto. Parte dos dados estão também na tese de doutorado, publicada: “Rompimento dos Vínculos do Pátrio-Poder – condicionantes socioeconômicos e familiares” – Veras Ed., São Paulo, 2001.
(3) Essa observação refere-se a diversas situações atendidas muitas vezes pelo assistente social, na triagem das VIJ, e não apenas às situações que envolvem a destituição do pátrio poder. O atendimento inicial geralmente acontece sob a forma de orientação ou de apresentação do pedido de providências com relação a diversas questões que envolvem crianças e adolescentes e que requerem a intervenção judicial. O que não se confunde com procedimento específico relacionado à perda do pátrio poder, que deve ser iniciado por “provocação do Ministério Público ou de quem tenha legítimo interesse”, conforme o art. 155 do ECA.
(4) A quais “são instâncias de passagem da teoria para a prática, são vias de penetração nas tramas constitutivas do real” (cf. Martinelli, 1993:136).
BIBLIOGRAFIA
BAPTISTA, Myrian V. (1986). O Estruturalismo Genético de Lucien Goldmann e o Estudo da Prática do Serviço Social. Revista Serviço Social e Sociedade nº21. São Paulo:Cortez Editora.
BARROS et al (1968). El Informe En Servicio Social – esquema para sua elaboração. Buenos Aires/Argentina:Editorial Hvmanitas.
FÁVERO, Eunice T. (1998). O Estudo Social nas Práticas Judiciárias com a Criança e a Família Pobres – uma aproximação. São Paulo, mimeo.
_________________(1999). Serviço Social, Práticas Judiciárias, Poder – implantação e implementação do serviço social no Juizado de Menores de São Paulo. São Paulo:Veras Editora.
FEBEM (1998). Relatório Técnico. Coordenação de Projetos Especiais. São Paulo, mimeo.
KAMEYAMA, Nobuco (1995). Metodologia: uma questão em questão. In A Metodologia do Serviço Social. Cadernos ABESS nº 03. São Paulo:Cortez Editora.
LÖWY, Michel (1993). Ideologias e Ciência Social – elementos para uma análise marxista. São Paulo:Cortez Editora.
____________ (1986). Goldmann e o Estruturalismo Genético. Revista Serviço Social e Sociedade nº21. São Paulo:Cortez Editora.
MARTINELLI, M. L. (1993). Notas sobre mediações: alguns elementos para sistematização da reflexão sobre o tema. Revista Serviço Social e Sociedade nº 43. São Paulo:Cortez Editora.